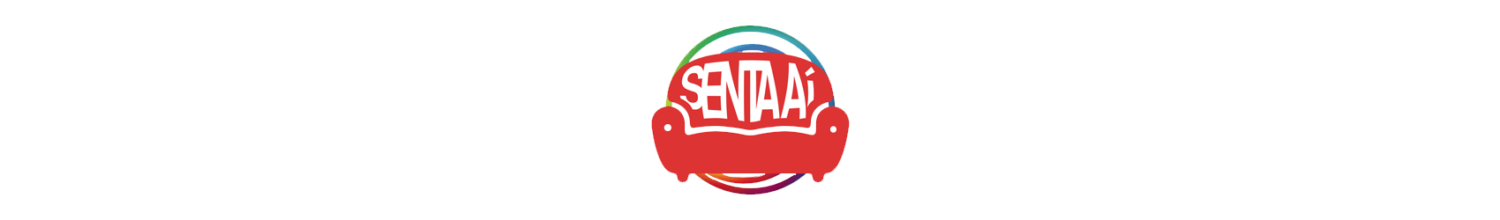Crítica – Raya e o Último Dragão
A década de 1980 não foi fácil para os estúdios Disney. Se é hoje ela é um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo, em um monopólio quase perigoso, um dos períodos mais marcantes da cultura estadunidense foi um dos mais sombrios para a casa do Mickey Mouse. O resultado nas bilheterias era muito aquém do esperado e as histórias, embora não ausentes de qualidade ou valor, não eram tão inovadoras quanto um dia foram. O sucesso de A Pequena Sereia, em 1989, fez com que os contos de fada se tornassem a marca registrada do estúdio novamente, dando início ao período chamado de “Renascença” da Disney. A qualidade das animações lançadas durante esta década acabou destacando um elemento presente em todas desde então: a fórmula. Uma que funcionava tão bem que era seguida por até lançamentos mais recentes, como Frozen e Moana, que são destacados por seu desprendimento das histórias clássicas de conto de fadas. Em meio ao cenário caótico que a indústria cultural se encontra, Raya e o Último Dragão chega ao panteão da Disney trazendo inovações não só em sua forma de lançamento (simultâneo no DisneyPlus e em cinemas disponíveis), mas também em sua abordagem da clássica fórmula que funcionou tão bem para seus antecessores.
Há séculos atrás, humanos e dragões viviam em harmonia na terra de Kumandra. Quando surgiram os Druun, monstros poderosos que transformam humanos em pedra, somente o sacrifício dos dragões foi capaz de adormecer os Druun e salvar a humanidade. Quinhentos anos depois, os conflitos que dividem os povos de Kumandra acabam libertando os Druun novamente. Diante de novas e poderosas ameaças, a guerreira solitária Raya decide ir em busca da lendária Sisu, o último dragão vivo, para tentar restaurar seu país, sua família e a confiança de um povo partido.

O mundo de Raya se apresenta para o público de uma maneira mais familiar do que seria confortável. Diante de cenários escassos de “sinônimo de ajuda”, uma ameaça desconhecida põe a vida de todos em risco e a cooperação coletiva, que deveria ser a maior arma contra esse novo inimigo, é deixada de lado pela falta de confiança esses povos tem uns nos outros. Tendo em vista o aniversário de uma pandemia que parece infindável, com números cada vez mais preocupantes, não é difícil entender porquê toda a trama do filme de Don Hall e Carlos López Estrada funciona tão bem: mensagens de esperança e confiança diante de tempos difíceis nunca são demais – e a magia de uma animação majestosa e uma história bem contada só aumenta isso.
Inspirado no Sudeste Asiático, a terra de Kumandra e seus elementos visuais e mitológicos são apresentados com cuidado e capricho. É um aspecto cultural que inclusive se alinha com a mensagem do filme: o senso de comunidade e coletividade, extremamente valorizados em países como Malásia, Vietnã, Singapura e Camboja. Comparações com Avatar – A lenda de Aang e produções do Studio Ghibli não são descabidas: os desdobramentos políticos entre os povos de Kumandra lembram muito as quatro nações do programa televisivo, enquanto as discussões sobre guerra, respeito e confiança podem rememorar, bem levemente, as reflexões sociais e ambientais que Miyazaki faz suas obras, particularmente Nausicaa do Vale do Vento.
Mas todo o mundo fantástico apresentado ao longo dos 104 minutos de duração é apenas um dos elementos que fazem de Raya e o Último Dragão um dos lançamentos mais corajosos e diferentes do estúdio nos últimos anos. O roteiro de Adele Lim e Quin Nguyen é muito preocupado em nos fazer compreender nossa protagonista e até mesmo os vilões, não deixando que o gênero que o filme se propõe a ser – ação, aventura – limite momentos e diálogos mais contemplativos. Há, aliás, um equilíbrio perfeito entre essas ideias. Por exemplos, as cenas de luta e combate, que são tão bem animadas e coreografas que torna difícil lembrar que estamos vendo uma animação, servem de gancho exatamente para o desenvolvimento de emoções e de construção de mundo.

O maior desarranjo talvez seja o design do último dragão. Enquanto todos os outros personagens tem caracterizações realistas e humanas, condizentes com os cenários, Sisu é extremamente cartunesca. O trabalho de voz de Awkwafina nada tem a ver com isso, inclusive é graças a sua Sisu que o entrosamento entre ela, Raya e os outros coadjuvantes funcione tão bem. Mas as feições exageradas, que de fato lembram uma princesa humana, com um design bem distante do de Raya e o Último Dragão, podem acabar tirando a atenção ou a potência de momentos belíssimos e muito importantes para a história.
Finalizado com maestria em cenários de pandemia e home office, a competência e o coração de todos os envolvidos brilham em cada minuto de Raya e o Último Dragão. Mais do que uma opção de escapismo em tempos que não parecem dar folga, o filme é um passo corajoso e muito aguardado para a Disney e para todo mundo que quer criar e compartilhar histórias que oferecem acolhimento, mudança e esperança. É o tipo de coisa que, não importa como o mundo esteja, nunca é demais.