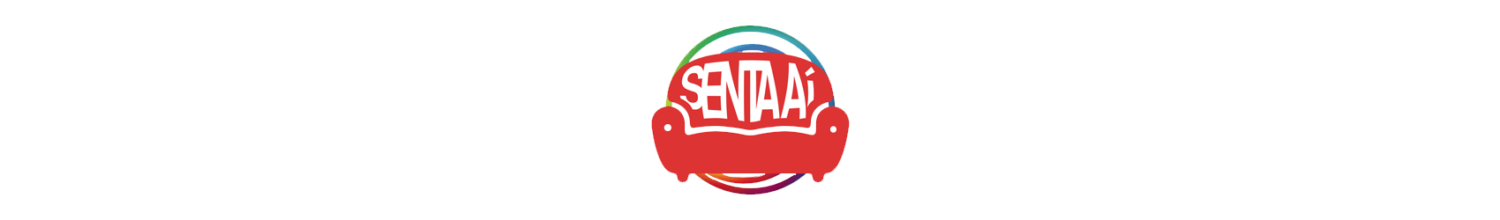Crítica – O Irlandês
Há uma tratativa quase clichê em filmes de gângster: começar a história pelo momento auge da vida do personagem ou o início de sua trajetória. Em Os Bons Companheiros, vemos o protagonista dizer que “desde que se lembra”, sempre quis ser um gângster; em O Poderoso Chefão, vemos o casamento da filha do personagem principal; em Scarface, é possível perceber a chegada de Tony nos Estados Unidos. Enfim, os exemplos são variados. A ideia da máfia e da vida do crime é iniciar, fazer um intenso sucesso financeiro e, geralmente, ser morto logo posteriormente. Ao menos é esse o trabalho sempre idealizado quando vemos uma obra nesse gênero.
Pois bem, mas caso a história fosse iniciada pela decorrida desse personagem? Um olhar diferenciado, geralmente cheio de culpa. É assim que somos colocados de frente ao universo de O Irlandês. A câmera anda pelos corredores de um asilo e nos coloca de frente para Frank Sheeran (Robert De Niro), velho e preso em uma cadeira de rodas. Ele conta, a partir daí, sobre a trajetória que o levou até aquele ponto. Sua amargura já aparece logo estampada no rosto acabado do protagonista. Os motivos disso são variados e diversos, contudo a culpa sobre as atitudes está lá desde o início, quando essa caminhada do equipamento passa por uma figura de Maria. A família, antes valorizada, agora é a amargura deste homem.

Nesse quesito, Martin Scorsese concebe a trajetória de duas formas bem distintas. A primeira, dominante em cerca de 2 horas e meia, traz toda uma montagem de Thelma Schoonmaker acelerada, com diversas sobreposições, cortes aleatórios e um ritmo dinâmico. Estamos por dentro de um mundo aparentemente menor – especialmente quando Sheeran começa -, mas que vai ganhando uma força interior meio bizarra. Tudo nesse lado passa bastante pela posição firme e dominante de Russell Bufalino (Joe Pesci), que comanda a máfia local. Ele, inicialmente visto como comum por Sheeran, transforma-se em um ser dominante na tela, sempre aparecendo em um grande tamanho nas lentes, além dos closes.
A segunda é totalmente diferente. A trilha de jazz, quase onipresente anteriormente, sai de foco para vermos um ambiente frio tomar conta. Toda a fotografia vira quase inteiramente pálida, para trazer a brutalidade pertencente a esse momento da narrativa. Essa questão perpassa pela relação entre Frank e Jimmy Hoffa (Al Pacino), que possui uma relação de intensa amizade com o protagonista. Aqui os contornos dramáticos compostos no início, ganham uma carga única de intensa precisão. É nesse lado que a personagem de Peggy (Anna Paquin), filha de Frank, traz esses dois caminhos da trajetória do personagem. Ela possui uma relação muito mais próxima de Hoffa, quase o tratando como um tio e muito mais distante de Bufalino, que vê apenas como um lado monstruoso do pai.
Essa concepção de mundo parece trazer uma conexão bastante personalista a imagem de Scorsese. O cineasta, que ficou famoso mundialmente pela Nova Hollywood fazendo filmes de máfia e violência, quase parece tentar se entender aqui. Não à toa temos um trabalho bastante filosófico próximo ao fim, buscando observar as poeiras marcadas no tempo – algo bem mostrado pela sequência do boliche. As figuras monstruosas em termos de moralidade, porém simplesmente impressionantes cinematograficamente, chegam aqui bastante quebradas. A reflexão do diretor parece vir bastante em torno de qual seria seu espaço agora. De buscar entender se tudo que ele fez realmente teria valido a pena. De uma certa culpa cristã (ele assumiu a religião mais incisiva posteriormente) inerente a essas produções.

Nesse sentido, é possível perceber uma correlação bastante clara entre Frank Sheeran e Martin Scorsese. Enquanto o primeiro vive a vida realmente parado, esquecido em uma sala, tentando entender o porquê de ter feito tudo que fez, o segundo se vê nessa projeção. A frase estampada “Eu ouvi falar que você pintava casas”, sempre destinada a figura do protagonista, pode ser transformada em “Eu ouvi dizer que você fazia filmes”. O diretor, mundialmente reconhecido, parece querer refletir um pouco, mesmo abordando o mesmo gênero de antes.
Em O Irlândes, quase não é possível ver a construção dos mitos, visto que eles nunca possuem a vida idealizada pelos gângsters. Eles sofrem o tempo inteiro de ações realizadas ao longo de suas vidas, inclusive mesmo não estando no fim. O caso mais crasso disso é Hoffa necessitando participar de diversos tribunais, além de toda a questão política envolvida. Então, isso tudo desembocaria aonde? Para quê? É um pouco desse questionamento o buscado dentro da obra. Mas não em um sentido de trazer respostas. E sim, mais em uma busca eterna por, simplesmente, se entender.