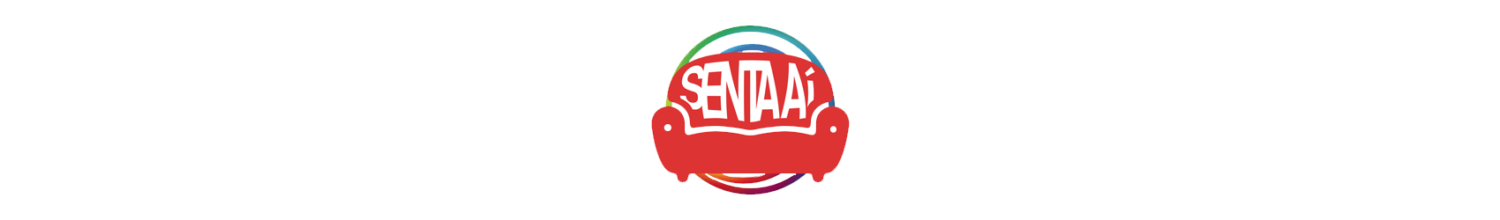Crítica – A Negra de… (1966)
Quando o navio vindo de Dakar (Senegal) atraca no porto de Antibes (França), uma mulher negra se questiona: “será que haverá alguém esperando por mim?”. A história de A Negra de… é a de uma sonhadora. Diouna não é diferente da mesma ilusão que milhares de africanos em condição de pobreza passam: a promessa de uma vida melhor do outro lado do Mediterrâneo. Para a protagonista, esta chance única na vida surge quando uma francesa viajando por sua cidade natal lhe chama para ser a babá de seus filhos.
Contudo, o máximo que vemos daquela beleza francesa e seu mundo exterior são nos minutos iniciais. Como se a câmera do diretor Ousmane Sembène acompanhasse o deslumbramento e a desilusão da protagonista, ela passeia pela região costeira dentro do carro guiado por um motorista de sua patroa. Posteriormente, não vemos mais nada daquele país. “Para mim, França é a cozinha, a sala, o banheiro e os quartos. Onde estão as pessoas da França?” pensa Diouna, na metade do filme. Isso acontece pois suas funções se limitam à atividade doméstica em um pequeno apartamento.

Aliás, se em dois parágrafos já mencionei dois pensamentos de Diouna, é porque é somente através da narração em off que escutamos sua voz. Na casa em que trabalha, não há espaço para sua fala. Em uma emblemática cena, sua patroa recebe alguns convidados que debatem sobre a situação de guerra civil na África na sala. Enquanto isso, ela está na cozinha, escutando tudo, em silêncio. Praticamente, é como se fosse invisível. A própria atuação de Mbissine Thérèse Diop segue um modelo bressoniano (Robert Bresson) de esconder suas emoções, apática, como se nem o direito de exteriorizar seus sentimentos em tela ela tivesse. No entanto, quem reprime muito seus sentimentos, uma hora explode.
Á primeira vista, alguém poderia dizer que a principal força de A Negra de… está em seu roteiro, que desenvolve o racismo de maneira bastante explícita, como na cena em que Diouna é beijada por um convidado que “nunca havia encostado em uma negra”. Entretanto, há muitos méritos na maneira como Sèmbene trabalha a relação de sua protagonista com o espaço à sua volta. Filmado em preto-e-branco, a pele negra de Diop é quase como um elemento que se destaca naquele cenário extremamente branco, o que acaba reforçando, visualmente, a opressão que ela sente durante o longa.
De mesmo modo, o diretor também dá um grande enfoque na rotina como uma espécie de ritual. A personagem parece cada vez mais perder sua vontade de viver conforme avança naquela mesma repetição de gestos mecânicos ao lavar a louça ou esfregar o chão. De maneira oposta, há também um significado no ato de se vestir e despir. Este é o único momento em que Diouna parece se sentir empoderada, quando bota seu brinco de girassol, e o grande colar de pérolas, além de belos vestidos ou um salto alto. Talvez isso seja a única forma de enganar a si mesma da realidade em que vive, mas que também acaba sendo negado por sua patroa, que pede que ficasse descalça e use um avental por cima.
Voltando a questão ritualística, não é só a própria protagonista que parece um elemento estranho naquele apartamento. Há uma máscara africana pendurada na parede que talvez seja o elemento central de toda a narrativa. Entender sua trajetória é entender principalmente a relação entre a colonizador e colonizado na obra. Em certos povos e tribos, as máscaras possuem um significado espiritual e de valor sagrado. Ou seja, existe todo um valor intrínseco naquilo, significando muito mais do que um simples objeto.

Na tentativa de agradar seus patrões, Diouna traz um desses rostos para ela. Após um rápido olhar curioso do casal, aquele símbolo é colocado na parede e se ressignifica, passando a ser apenas um objeto decorativo, quase como um souvenir que ignora toda sua complexidade. Ora, não é exatamente assim que o casal de francês trata aquela africana? Ignorando seu valor como humana e lhe objetificando.
A partir deste momento, para continuar o raciocínio, é necessário entrar em spoilers.
Ao final da projeção, a senegalesa — que aos poucos sai de sua situação de apatia e se entende como oprimida — é demitida. Em uma inesperada cena, após fazer as malas para ir embora, ela se mata na banheira dos franceses. Em sequência, tudo que acontece é muito interessante. Primeiramente, temos imagens de banhistas em uma praia, se divertindo, até que um deles abre o jornal e a câmera dá um zoom na pequena nota sobre aquele suicídio. Afinal, esse é o ponto de vista europeu sobre o caso. Apenas uma nota de rodapé enquanto suas vidas continuam.
De modo contrário, temos a ótica africana. Em uma tentativa de prestar respeitos, o marido da patroa viaja para a vila natal de Diouna em Dakar e, além de retornar seus pertences, oferece dinheiro para a sua mãe. Obviamente, a mulher recusa e A Negra de… acaba com o europeu sendo perseguido pela criança da vila que usa a máscara. Neste momento, é como se o espírito da falecida encarasse diretamente aquele homem, que sabe que será assombrado pelo resto da sua vida. Ainda que um final controverso, pela escolha da protagonista, fica claro que, por tudo que passou, voltar para sua situação de miséria não era uma opção. Assim, Ousmane Sembène opta pelo tipo de revolta mais radical possível em seu roteiro. Neste caso, o suicídio se contextualiza como uma forma de vingança, uma vez seu sangue africano agora corre por toda aquele apartamento, uma coisa que sua antiga patroa jamais irá conseguir se livrar, ou sequer entender o poder daquele gesto.