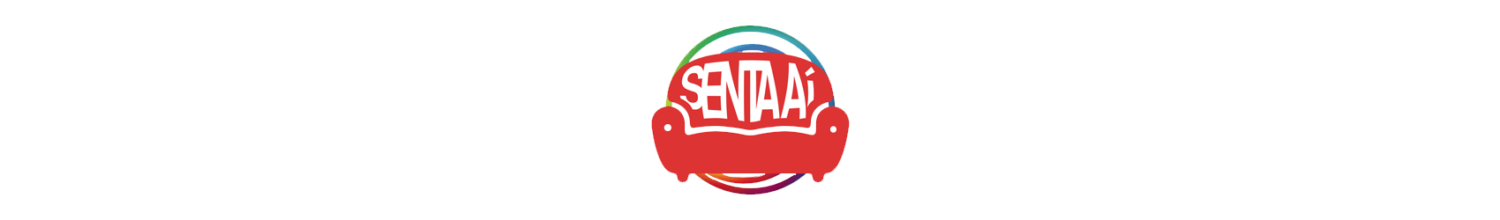Crítica – Avatar: O Caminho da Água
Falar de Avatar é, infelizmente, esbarrar nos chatíssimos discursos que o cercam, seja sobre a suposta falta de um “legado cultural” do primeiro filme, ou o fato da trama ser uma mistura de outras obras já bem conhecidas, como Pocahontas e Dança Com Lobos sendo os mais citados nessas discussões. Com o lançamento da sequência, O Caminho da Água, isso não seria diferente, e lá se vão algumas milhares de linhas virtuais sobre o roteiro batido da sequência, em detrimento de todo o resto que James Cameron deseja apresentar.
Vamos tirar algo do caminho: sim, o roteiro de Avatar – O Caminho da Água é excessivamente familiar, demonstrando um apego muito grande a elementos do filme prévio. O Coronel Quaritch (Stephen Lang) voltou! Sequências envolvendo aprender a montar algum animal de Pandora? Também! No lugar do unobtainium, temos agora uma nova substância com o valor na casa dos milhões de dólares, que, assim como o mineral, é mera desculpa para colocar as tramas em colisão.

O quanto isso importa, no fim das contas? Não muito, para ser sincero. Cinema nunca foi muito sobre a história em si, mas sim no como contar. Há um movimento duplo: se a tecnologia é algo completamente inovador, a história nem tanto. Mas, novamente, tudo bem, pois mais do que te surpreender com plot twists e afins, Cameron quer criar um encantamento com o mundo de Pandora.
Não a toa que boa parte da duração de O Caminho da Água pode ser definida como um tour turístico pelo planeta alienígena, nos levando a conhecer espaços para além do primeiro filme, devido à migração da família Sully para outros cantos, com o retorno dos humanos dez anos após a derrota do primeiro filme. Como o subtitulo entrega, o novo cenário é mais aquático, envolvendo uma nova tribo Na’vi, uma série de desafios inéditos para Jake (Sam Worthington) e sua extensa família, que além de Neytiri (Zoë Saldaña), conta agora com quatro filhos.
Se isso abre espaço para o dito turismo, apresentando os exuberantes cenários subaquáticos de Pandora, com criaturas ainda mais fantásticas que a superfície, há também uma dimensão íntima na narrativa. O mundo se expande, mas Cameron não visa oferecer simplesmente “mais” em O Caminho da Água, mas sim em desenvolver relações a partir desse novo ambiente, e tudo dialoga com questões internas dos personagens. O melhor exemplo disso são os tulkuns, seres similares a baleias, que possuem uma conexão espiritual com os Na’vi, que vai muito além das palavras.

“Além das palavras”, esse é um dos espaços do cinema, de dar forma aquilo que, de outra forma, não poderia existir, como a amizade profunda entre Lo’ak (Britain Dalton) e Payakan, um tulkun exilado por atos do passado, desenvolvida quase que unicamente por meio de ações entre os dois, calcada, novamente, nesse aspecto de “passeio” e descoberta do filme, reforçando o status dos seus personagens, mas também, abrindo esse mundo.
Nesse caso, não chega a surpreender a escala reduzida do conflito final, especialmente em contraste com o primeiro Avatar. Em 2009, a luta envolvia dezenas de aviões e milhares de Na’vis, buscando salvar todo seu modo de vida. Já em O Caminho da Água, o conflito envolve um barco e alguns alienígenas, com um foco muito menor, porém não menos importante: salvar famílias.
A simplicidade da história acaba sendo um enorme trunfo para a sequência final. Há uma clareza muito grande nas ações dos personagens, e digo isso tanto no sentido narrativo quanto imagético, com o caos nunca sendo excessivo, sem nunca perder o foco do que acontece, onde acontece, e porquê acontece. O Caminho da Água é relativamente leve de ação belicista, mas quando ela chega, é empolgante não só por conta do espetáculo, e sim pelo estofo emocional conferido pelos momentos de passeio.
![]()
Logo, reitero: sim, O Caminho da Água é “batido” em seu conteúdo, e comparações com outras obras irão acontecer, assim como foi com seu predecessor, só que é difícil negar a riqueza de suas imagens, do mundo de Pandora e, principalmente, dos personagens. O retorno à Pandora demorou, mas veio em um bom momento. Num cenário onde os grandes filmes são realizados com uma lógica quase fordista, despida de imaginação, é sempre bom lembrar de um tempo onde o grande orçamento dos blockbusters estava a serviço da criatividade e inovação.