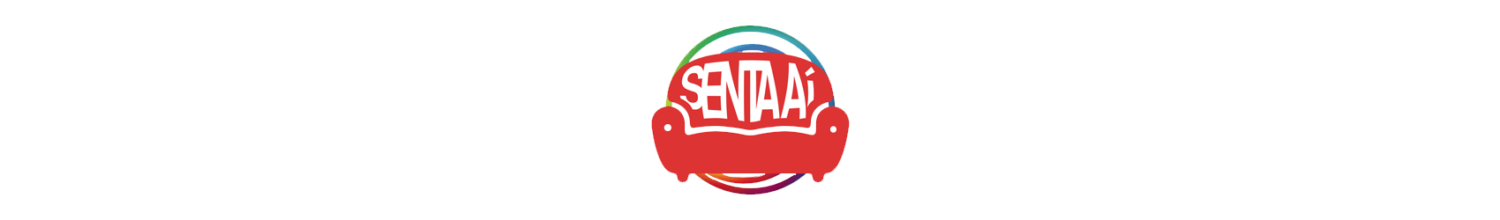Os Dylans que perdemos de vista em Não Estou Lá
O dicionário dá uma versão muito prática do significado da palavra iconoclastia. Quando pesquisamos a palavra no Google, basta alguns segundos para nos depararmos com definições como “aquele que ataca crenças estabelecidas ou instituições veneradas ou que é contra qualquer tradição”. Geralmente associado a figuras religiosas, o termo se encaixa muito bem na figura de Bob Dylan, especialmente durante a década de 60, na qual renegou diversos rótulos, enfrentou a imprensa e os fãs de frente e manteve uma postura que o permitiu ser o que era. Quando uma pessoa muito famosa apenas executa suas funções artísticas da melhor forma que pode, sem olhar para trás e pensar no que fez ou deixou de fazer em um show, ela se torna à frente de qualquer imposição de estilo ou tendência. Cria-se, então, uma imagem que refuta o simbolismo das palavras e encarna a realidade das ações. Coloca-se a prática acima da teoria e o estilo torna-se uma consequência da arte, e não uma criação paralela.
Sempre foi uma tarefa tola definir um único Dylan. Poderíamos pensar em seus primeiros shows ‘elétricos’, com guitarra, mas ele nunca foi muito de ligar para palavras alheias, muito menos para o termo ‘revolução’. Se existiu alguma revolução em sua música, em sua arte, foi a de nunca parar de compor ou escrever. Quando definimos uma faceta de seu trabalho, quando o colocamos em frente a um espelho e dizemos: “é isso”, não estamos fazendo jus às suas metamorfoses. Se Dylan é um ídolo para muita gente, é porque ele não pertence a nenhum tempo verbal. Dylan não é ou era, nem será: ele nunca foi, na verdade. Ele sempre esteve lá, e aqui e acolá. É um ídolo que temos conosco, que se multiplica sem sair do lugar. Que é fake, mas é real; Que é poeta, mas desconstrói a palavra; Que foi considerado profeta pelo teor de suas canções, mas não conseguiu prever que a vida lhe pregaria inúmeras peças.

Todas essas contradições dificultam a formação de um imaginário dylanesco. O jovem de cabelos desgrenhados e encaracolados da década de 60, sempre com uma gaita e um violão em mãos, tentando escapar em meio a uma profusão de fãs e curiosos, provavelmente é o mais lembrado, por pertencer a um ideal do ídolo irretocável em seu próprio charme e em sua postura de negação. Contudo, algumas da maiores obras dele nasceram de um ideal fragmentado e de um coração machucado ou, então, precisando provar que ainda batia. E esses Dylans, como fazer jus a eles sem esquecer totalmente que ele já foi jovem, despreocupado e sem experiências de quase-morte e perdas físicas? Parecia simplesmente impossível retratar de forma visual a vida e obra de Bob Dylan sem que uma imagem se destacasse.
Em 2007, o diretor Todd Haynes e uma trupe de atores, alguns consagrados e outros tentando provar espaço, se juntou para uma cinebiografia na qual, através da narrativa fragmentada, e, porque não, segmentada, quase caótica, optou por dar uma abordagem externa, de fora, a algo que pertence inerentemente ao que vem de dentro, da mente, e não do corpo: como estruturar um gênio imageticamente? Com seis atores completamente diferentes entre si – tanto no gestual quanto na composição física – a ideia de desconstrução desse imaginário fica bem evidente. Se a arte nunca deu resposta para nada, mas sim inúmeras saídas, Haynes nunca pareceu tão confortável quanto aqui, articulando um interessante jogo de espelhos quebrados. Dessa forma, para cada lado que você olha, vê um espelho, com diferentes faces, todas apontado para uma mesma pessoa. Bob nunca parou no tempo e nunca deixou o tempo dominá-lo. Ele o absorveu, o materializou e o impregnou em sua alma. Quem é Dylan? E o que é o tempo? Como existir um sem o outro?
O diretor começa o filme respondendo a essa pergunta, ou pelo menos parte dela. O ‘Dylan clássico’, aquele trovador solitário do início da década de 60, já morreu há anos. Convivemos hoje com seus inúmeros fantasmas, restos de corpos que o ocuparam, ocupam e ainda ocuparão suas mutações que já vieram e que ainda estão por vir. Em uma sala de cirurgia, Jude Quinn (Cate Blanchett), vai para uma mesa e é cortado com um bisturi. E assim, suscetivamente, temos a oportunidade de ver, em flashes, todas as outras efígies dylanescas, todas as composições daquele mesmo corpo, seus inúmeros fantasmas. Nada mais que pedaços de carnes a ocupar um mesmo espaço, em um tempo contínuo, você poderia pensar. Mas, se o tempo é único, Dylan não foi. E não o é. Por isso há o conflito entre ele e a passagem do tempo. Não tem como falar de Dylan pensando em um. Se o tempo não permitiu que ele fosse mais de um ao mesmo tempo, a arte permite, e por isso ela é libertadora. Por isso Todd Haynes, aqui, é artista e historiador ao mesmo tempo. Decupa e ocupa a matéria, e não apenas conta uma história.
Da “morte” do mito Bob Dylan, nasce essa figura humana. O Dylan fugitivo, o Dylan ativista, o Dylan pai de família e namorador, o Dylan transicional (entre o folk de protesto e a “eletricidade”), o Dylan elétrico e o Dylan “de volta às raízes”: todos apontam para um horizonte. Quando a imagem do Dylan-Deus é desconstruída, todos os outros passam a existir. Não existe mais mídia, não existem mais fãs; existe a criação através da composição, da escrita, do viver. O artista libertado pela obra mostra ao mundo é um ser que entra em contradição consigo mesmo e com a sociedade, é por vezes arrogante e egocêntrico, mas uma pessoa sempre preocupada em progredir e transgredir, não só em sua natureza física, porém também transgredir através do espírito.

O mais interessante é que nenhuma dessas representações são poupadas em cena, e colidem em questão de minutos, em uma mesma abordagem. O Dylan de protesto, com o Dylan cansado daquilo tudo e também o Dylan cristão, todos interpretados por Christian Bale, em um formato que beira o mockumentary, com construções falsas de identidade e depoimentos de pessoas que teriam convivido com aquela faceta, não apenas sendo o próprio ator Bale se multiplicando nos Dylans. Mesmo nos segmentos mais unidimensionais e esclarecidos, como o de Blanchett (Dylan elétrico) e Heath Ledger (Dylan casado e depois divorciado), há a questão de “sair do lugar”, procurar um escapismo para o conformismo, tanto criativo quanto pessoal. E o que dizer, então, da belíssima cena em que Billy the Kid (o Dylan que volta às raízes) se encontra com o Dylan fake mostrado de início, o que queria fugir para encontrar Woody Guthrie?
Na vida e na arte, existem espelhos. Às vezes, pessoas são espelhos delas mesmas, em diferentes fases da vida. Haynes começa o seu filme mostrando fantasmas. Depois mostra uma pessoa aparentemente sem identidade, um garotinho perdido à procura de seu ídolo. Termina, de forma bela, com o cruzamento espelhado da própria arte dylanesca: o violão e a gaita, afinal, nunca fugiram das mãos do músico. Quando Billy the Kid encontra um violão usado, ele encontra ele mesmo, e se contradiz: mesmo que olhemos o tempo todo para frente, é necessário que retrocedamos nosso próprio olhar para nos restabelecermos. Quem é Bob Dylan se não uma contradição em vários atos?