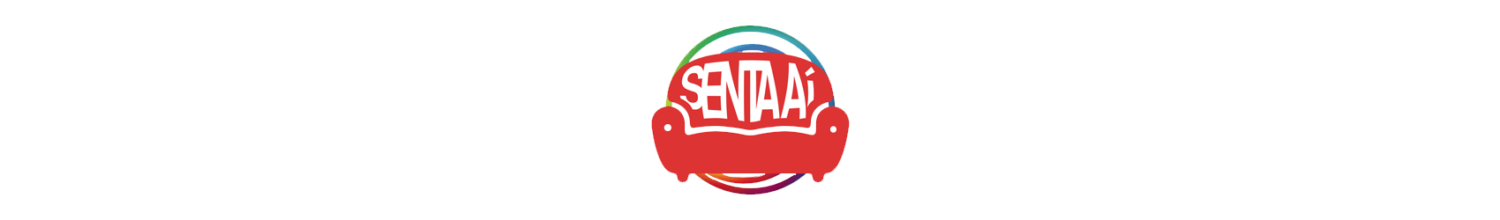Crítica – A Máquina Infernal
No clássico de Fritz Lang, Metrópolis, das diversas imagens fantásticas apresentadas ao longo da narrativa, uma se destaca: Freder, o filho de um rico industrial, se perde na cidade e testemunha em primeira mão o sofrimento dos trabalhadores, especialmente em relação a uma grande máquina operada por eles, que passam por grandes sacrifícios para manter funcionando. Ao testemunhar a morte de um desses trabalhadores, Freder olha para o colosso de metal e só consegue ver Moloch, um deus pagão que exige sacrifícios humanos.
Esse momento representava de modo bem explícito um dos temores relacionados ao trabalho de fábrica, a desumanização, tornando os trabalhadores pouco mais do que peças no grande maquinário. Quase cem anos depois, esse temor é apresentado novamente no curta A Máquina Infernal, de Francis Vogner Reis.

A produção se inicia dentro de uma fábrica vazia, mas barulhenta. À noite, um operário solitário começa a operar uma das máquinas, até que… algo, o interrompe. Ele para o trabalho, e olha para o nada. Sua expressão muda, seja lá o que esteja vendo o deixa profundamente consternado. O plano é tomado por imagens de destruição, o operário sumindo no meio da fumaça imposta sobre a sua imagem, quando sua presença retorna, é na forma de uma mancha de sangue contra o chão da fábrica, seguida de uma ficha de autópsia.
A Máquina Infernal consegue estabelecer de modo muito eficaz aquele espaço industrial como absolutamente hostil, incômodo. Além dessa sequência de abertura, muito disso se apresenta pelo design de som. A presença de sons guturais, um tanto alienígenas, é constante durante o curta, tanto de modo diegético – dentro daquele mundo, com os personagens comentando sobre – tanto como parte da trilha sonora, que, por vezes, é até um pouco efusiva em sua intensidade.
Somos apresentados, então, a Sarah (Carol Castanho), que arranja um emprego temporário no lugar. “A fábrica tá mal, só podemos garantir até o carnaval mesmo”, informa uma funcionária. É a partir de Sarah que temos contato com o aspecto mais humano daquele lugar, mas que é tão dilapidado quanto a estrutura que os cerca. Os salários estão atrasados, muitos ali estão de aviso prévio, e outros já foram até demitidos, mas seguem ali, vagando, fazendo trabalhos que não são mais requisitados.

O trabalho toma conta da vida daquelas pessoas de mais de uma maneira. Não há muitas cenas fora do ambiente da fábrica, e mesmo as que existem são marcadas pela sua presença de algum modo. Certo momento, Sarah faz sexo com um colega de trabalho dentro de seu carro, nada mais humano que isso, mas o seu parceiro possui uma prótese na mão, resultado de um acidente de trabalho, e a própria prótese é criada a partir de objetos da fábrica.
Fritz Lang posicionava o trabalho industrial como uma máquina devoradora de homens, um lugar onde pessoas vão e morrem em nome de manter aquele maquinário funcionando. Já Francis Vogner Reis coloca esse espaço como uma força que consome seus participantes, os obriga a viver dentro de si mesma independente do que seja. O apocalipse da classe trabalhadora, como o filme é descrito, é não escapar nunca de sua posição de explorado.
Esse texto é parte da cobertura do 74ª Festival de Locarno