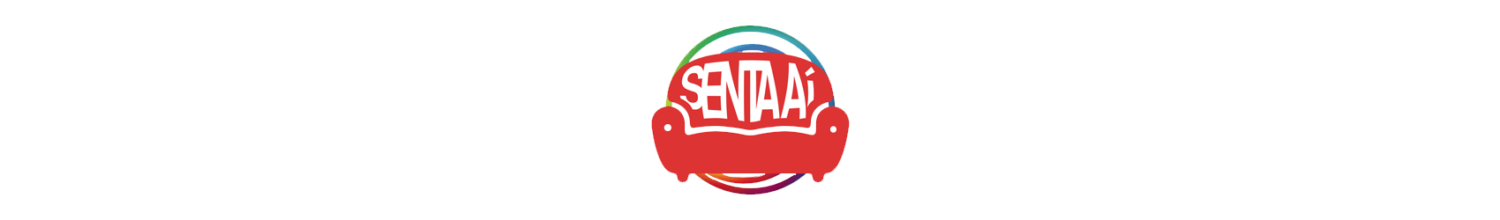Crítica – O Esquadrão Suicida
As críticas negativas da nova versão de Esquadrão Suicida, desta vez dirigido por James Gunn, apontam majoritariamente para uma simplicidade do filme em sua visão política, que privilegiaria um olhar imperialista e que reforçaria estereótipos da cultura latina (Corto Maltese é quase uma Venezuela genérica). Porém, os caminhos narrativos do diretor (que também é roteirista) me parecem um pouco mais complexos em seus apontamentos políticos do que seus detratores apontam, ainda que, de certa forma, com muitos escorregões. Afinal, no fim, é evidente que ele não consegue escapar de uma lógica da autocrítica cega, na qual nunca vai ser exatamente revolucionário um norte-americano querendo denunciar o imperialismo de seu próprio país dentro de um blockbuster convencional de super-herói.

Contudo, a cena do massacre da vila é um bom exemplo para mostrar uma ambiguidade nas intenções de Gunn. Em um primeiro momento, o espectador é conduzido a vibrar com as mortes executadas das maneiras mais sádicas possíveis, dentro do gore inconsequente que se vinha apresentando até aqui e uma vez que se esperava que aqueles fossem soldados de um ditador. Posteriormente, a revelação de que aquilo era uma vila rebelde não só funciona dentro de uma lógica de humor negro perversa que o Gunn gosta, mas possui todo um sentido político de fazer o espectador se reprimir por ter sido cúmplice daquela situação. O faz refletir sobre a própria moral da violência exposta no filme. Inclusive, o texto ainda é generoso ao deixar explícito no diálogo qual a ideia dessa cena, que é uma crítica a lógica dos Estados Unidos em atirar antes de perguntar.
Fora isso, de um ponto de vista narrativo, a virada envolvendo Pacificador (John Cena) explora, através de uma personificação, toda a crítica à contradição dos Estados Unidos usarem, contraditoriamente, da violência com terceiros com a desculpa de buscar a paz e manutenção da ordem. No mais, sua antagonização é também um dispositivo textual para que os outros personagens adquiram uma consciência política de seu uso como fantoches descartáveis para salvar a imagem de um país responsável por atrocidades aos direitos humanos.
Só que a questão é, que no fim, esses personagens não são heróis revolucionários que irão implodir os EUA por dentro, como muita gente parecia esperar, mas individualistas que usam das informações privilegiadas ao seu favor para fazerem um pacto com o status quo e poderem se manter vivos dentro do ‘jogo’ – uma vez que nenhum deles é exatamente um patriota. É, portanto, um final amoral, que reforça toda a amoralidade construída ao longo do filme, principalmente através da violência. Li as críticas negativas que afirmam que Gunn filma com crueldade os corpos latinos sendo massacrados, mas ele faz o mesmo com a equipe americana dos primeiros minutos (a melhor coisa do filme?) e mostra tanta indiferença para a morte do Polkadot quanto do Milton. É claro que o Rick Flag (Joel Kinnaman) possui um fim mais privilegiado imageticamente, porque esse parece ser o personagem que o diretor considera como o ponto de vista moral idealizado a ser simpatizado pelo espectador (o soldado patriota americano que não é nem criminoso e nem um militar ditador), mas ao mesmo tempo usa ele para mostrar que esse tipo de figura utópica não tem espaço no mundo, não há como se botar no meio do caminho da máquina de poder.

Por outro lado, esquecendo de questões morais e políticas, mas pensando narrativamente em Esquadrão Suicida enquanto um filme de bandidos, os rumos que James Gunn toma também são contraditórios. Enquanto há uma clara subversão no ato inicial, que passa a ideia de que todos os personagens serão descartáveis (tanto para o filme, quanto para o governo), há, ao mesmo tempo, um grande investimento em uma humanização do grupo principal, forçando a barra para criar um elo emocional, tanto entre eles como família e do espectador com eles, como na cena do bar, de modo que suas posteriores mortes sejam sentidas dramaticamente. No mesmo sentido, a busca pela exploração do passado de quase todos os personagens, sempre ligados por uma questão familiar em comum, é também contraditória. Ao optar por mostrar que aqueles vilões são seres humanos com traumas de criação que foram responsáveis por colocá-los naquele mundo, há uma incongruência diante da violência amoral imagética que Gunn propõe sem muitas pretensões e divertidamente.
Afinal, aquele banho de sangue seria muito mais condizente caso aqueles personagens fossem realmente vilões unidimensionais, que são assumidamente marionetes para as intenções políticas de governantes e estão ali apenas cumprindo a missão como uma oportunidade de matar pessoas sem punição para tais atos. No fim, Esquadrão Suicida é um filme indeciso: entre a moral e amoral; o patriotismo e o anti-patriotismo; o heroísmo e o vilanismo; a violência enquanto estética vazia e o seu uso reflexivo; entre uma narrativa convencional blockbuster e um cinema político.