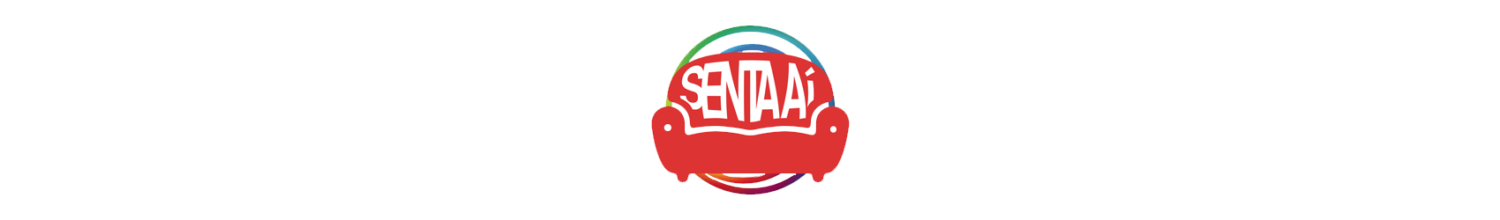“O antigo slasher é todo subvertido”, diz Gabriela Amaral Almeida sobre seu filme O Animal Cordial
Fazer um filme de terror dentro do Brasil não é nada fácil, ainda mais sendo mulher, já que a indústria cinematográfica sempre foi extremamente machista. Dessa maneira, Gabriela Amaral Almeida consegue quebrar esteriótipos e barreiras, não só propriamente do cinema, mas do horror também, levando a algumas inversões de papéis. Foi sobre isso – e muito mais – que conversamos com a diretora de O Animal Cordial:
O Animal Cordial é o terror dentro da realidade brasileira
Senta Aí: Muitos tem definido o filme dentro do subgênero do slasher. Você acredita que O Animal Cordial fica dentro disso ou é algo além?
Gabriela Amaral: Eu acho que ele é um slasher porque ele parte da premissa que estruturante dele, já que existe um lugar, aonde se tem um assassino que irá matar os personagens. Ao mesmo tempo, o antigo slasher tinha muitas questões relacionadas a mulher, como o sexo sendo punitivo, o fato dessas sempre morrerem, aonde todo o antigo slasher é subvertido aqui. Ele está sim dentro do gênero, mas ele tá dentro de um momento atual e as convenções são enquadradas pros dias de hoje.
SA: Falando exatamente sobre isso, é interessante esse trabalho ser realizado de uma maneira diferente, ainda mais sob o ponto de vista de uma diretora, já que o slasher sempre foi considerado como machista e racista, principalmente por minorias morrerem sempre primeiro.
GA: Há mortes sim, mas as vítimas são subvertidas.
SA: Sobre isso, me lembrou o filme francês Revenge, de 2017, aonde muitos falaram da narrativa feminina como algo importante ali, já que era dirigido por uma mulher…
GA: Eu acho que existem estruturas no cinema como um todo. O que chamam de olhar feminino é algo como uma narrativa pelo lado da mulher. Eu não acredito de um olhar masculino ou feminino biologicamente, mas acredito que nos tornamos homens e mulheres. A mulher foi retirada ao longo da história de sempre conduzir suas próprias narrativas.
Quando olhamos para o gênero horror dentro da literatura, as mulheres foram responsáveis pelo inicio das produções. Mas qual a diferença? A literatura é muito mais barata e o cinema mais caro [de se fazer]. Quando vamos para o cinema, a hierarquia estrutural da direção de um filme tem no diretor como algo mais alto, e à mulher sempre foi negado essa saída ao mundo e, sobretudo, o comando das instituições e foi negado por muitos anos essas narrativa cinematográfica.
O terror lida com morte, sexualidade, medo do desconhecido, isso tudo tem poderia ter sido comandado por mulheres na história, mas só nos últimos anos tem sido possível uma mulher fazer por conta dos avanços do feminismo e o rompimento com algumas dessas construções, o que nos fez chegar até esses papéis mais altos. Não é só no cinema também, mas a ciência, pesquisa, engenharia, tudo a partir da desconstrução do papel feminino.
SA: O filme também tem algumas lembranças do giallo, principalmente na questão das cores estouradas em alguns momentos e da trilha sonora. Esse movimento foi uma inspiração?
GA: Olha, eu sou fã do giallo. Dos mais obscuros aos mais famosos. Quando fui fazer o filme, nada foi usado de uma maneira colocada bem de cara, mas isso obviamente acaba sendo pensado desde o momento de confecção dos personagens, como as questões muito viscerais que o giallo sempre abordou.
Quando eu estou com um colaborador, as questões que também estão no giallo vieram a tona, mas nunca como ponto de partida. Lidando com essas questões extremas, isso se relaciona com a minha criação. As obras de arte que a gente consome acaba gerando uma vontade também de passar aquilo para dentro do filme e, quando fazemos algo, acaba existindo o medo de trazer isso e não fazer nada de novo. Ao mesmo tempo que eu asseguro uma familiaridade, também me privo de descobrir coisas novas com personagens, relações do set e etc. Acho sempre mais rico as relações vieram da minha criação.
Com relação a trilha sonora, que foi composta pelo Rafael Cavalcanti, tem umas referências bem claras ao giallo, mas a maior inspiração de vida dele é o Angelo Badalamenti, o compositor dos filmes do [David] Lynch, essa seria a referência mais direta.
SA: Uma coisa que me chamou bastante atenção é que, mesmo havendo diversas oportunidades para fazer, em nenhum momento o filme chega ao ponto do gore. Isso realmente foi sempre uma intenção ou foi algo que acabou sendo uma decisão para essa trama?
GA: Também não houve nenhuma vontade intelectual prévia, sabe? Na medida em que o gore, como ele é narrado, em nenhum momento eu pensei em usar para chocar ou para ir para ele, já que a lógica maior aqui é a da sensação. Aquela quantidade de sangue, da maneira que é mostrado, eu acho o suficiente para trazer o que pede. Acho que as cenas pedem mais os embates morais, do que o explícito da violência gráfica. Mas, parando para pensar agora, também usamos muito sangue no filme (risos). Acredito que isso só não é mostrado como nos filmes de torture porn, mas era porque realmente não precisa.
Alias eu gosto muito do gore, tira da questão realista, por exemplo, até com o Dario Argento. O próprio [Alfred] Hitchcock, quando faz Psicose, a questão não era tornar aquilo real. Entender a narrativa que você quer contar, vai chegando intuitivamente no grau que se quer ir com essa violência.

SA: Alguns dos principais momentos de tensão do filme estão na questão do debate sobre classes sociais. O quanto você, como criadora, acha relevante os debates sociais dentro dos filmes de terror – algo que tem sido muito utilizado nos últimos tempos?
GA: Eu acho que o terror sempre mexeu com isso. Eu acho que o terror é o drama do medo, seja ele qual foi. Você tem lá o Invasion of the Body Snatchers [Vampiros de Almas, em português] que vai falar sobre machartismo, O Exorcista do [William] Friedkin, aonde a mãe é uma atriz e independente – fruto do feminismo -, mas acaba sendo punida por isso. Eu acho que o horror sempre está fazendo comentários políticos. É um gênero que propicia o artista a fazer esses comentários e perceber as suas contradições.
Engraçado, eu acho que os filmes de terror, olhando em retrospecto, não para quem cria – já que esta relacionando com cada sociedade -, mas olhando em retrospecto, ele sempre é um comentário, um resultado lúdico das tensões que a gente vive como sociedade. Eu costumo ver o horror, terror, os subgêneros, como gêneros bastante potentes para falar sobre a angústia atual.
SA: O elenco do filme estava em uma sintonia perfeita, algo que ainda chama mais atenção por alguns atores de grande nome. Como foi trabalhar com tantos grandes talentos?
GA: Eu tenho uma coisa muito forte com elenco e ator. Para mim são todos protagonistas de uma historia possível, no ponto em que nenhum foi mais trabalhado do que o outro. Eu costumo trabalhar um mês antes das filmagens e, aqui, trabalhei muito individualmente. Junto com o René Guerra, a gente trabalhou no sentido e dar para cada ator o texto e o lugar necessário e os atores tiveram uma adesão muito forte e falando como se sentiram imersos nos personagens. Existiu uma adesão dos atores para construção de cada um dos personagens também muito forte, desde os nomes menos até mais conhecidos do elenco.
SA: O personagem de Murilo Benício é representado em muitos momentos por reflexos, espelhos ou até com algo de vidro em sua frente. Para você, que o personagem aparenta ser é apenas uma outra face de quem ele realmente é?
GA: O personagem do Murilo é totalmente multifacetado, e o espelho lança comentário sobre outros personagens, de todos serem multifacetados. Tendemos a viver a vida de maneira multifacetada também e, isso já entre na minha filosofia como diretora, a gente tenta escolher um lado para viver. Eu acho que o Murilo representa a maneira como os outros personagens são construídos. Por ser o protagonista, ele é o que mais trabalha nisso, com essa questão dos reflexos, como você falou. Eu acredito que todos os personagens do filme estão colocando uma faceta e escondendo outra, porque a gente sempre é assim.

SA: Essa foi sua primeira direção em um longa. Como é que foi essa passagem de trabalhar em curtas para algo maior?
GA: Minha transição do curta para o longa foi muito natural, na questão que eu não vejo nenhuma hierarquia entre os formatos. O curta é menor, mas tem sua importância. Como na literatura, algumas histórias cabem mais como conto do que como romance. Eu acho que o atual momento da minha vida tinha momentos maiores, o que me levou para um longa. Essa transição foi realmente muito natural. Acabou sendo uma história que me levavam para um longa, mas ainda tenho histórias que podem ser contadas em curtas na minha cabeça.
A transição também foi muito natural com o tempo de desenvolver a história, nesse sentido, entendendo a história e os personagens, o molde de produção, o tempo de desenvolvimento do longa me caiu muito bem, pois se viu dentro da história que eu queria contar.
SA: Por fim, queria que você falasse um pouco mais sobre A Sombra do Pai, seu próximo filme.
GA: É, ele estreia agora no Festival de Brasília, e conta história de uma menina, uma criança de 8 anos, misturando mitologia do sincretismo brasileiro e do horror americano. Ela vive nesse universo, mas tem muita dificuldade de se comunicar com o pai, que é pedreiro. Então, ela acaba tendo que trazer a mãe, do mundo dos mortos, para mediar essa relação. Novamente coloco os personagens dentro do terreno do medo. Se fosse para classificar, colocaria ele como horror fantástico, se isso existe (risos). Começa a rodar em festivais agora, em setembro.