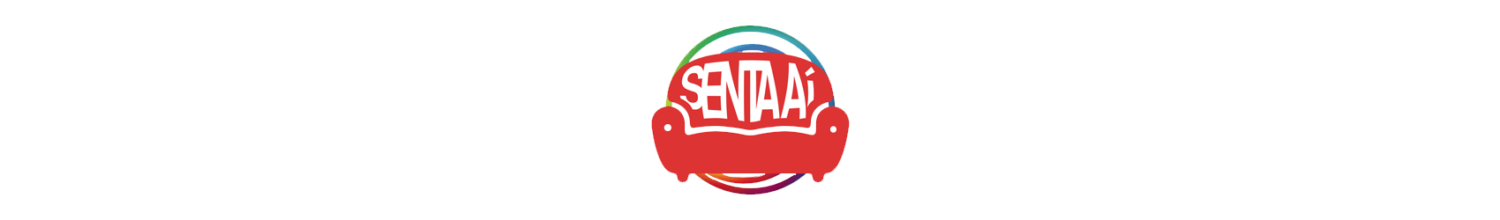A franquia Pânico é bem mais que apenas metalinguagem – e você deveria saber isso
“What’s your favorite horror movie?”
A frase que marca toda a metalinguagem e pensamento dos fãs sobre a franquia Pânico, talvez seja a que também mais foge dela. Mas queria, inicialmente, deixar ela no ar para começar do começo. Mais especificamente, o ano de 1996, no lançamento do primeiro Pânico, dirigido por Wes Craven a partir do roteiro de Kevin Williamson. Nenhum dos dois eram figuras desconhecidas do mundo do cinema. Só que vou destacar aqui especialmente Craven, que era um figurinha carimbada dentro do mundo do terror. Estava, inclusive, no caminho para o fim de sua carreira, que terminaria apenas com sua morte, no ano de 2015. No entanto, ele já havia feito Monstro do Pântano, Quadrilha dos Sádicos, Shocker: 100 Mil Volts de Terror e o clássico A Hora do Pesadelo.
No 24º ano da sua carreira, parecia claro como Craven estava interessado em observar um lado mais teórico dentro do cinema de horror. Isso fica evidente em O Novo Pesadelo: O Retorno de Freddy Krueger, uma das produções findouras da franquia e que utilizava de forma direta a metalinguagem. Parecia ser algo no radar do cineasta e que viria a se aprofundar, de forma mais direta, no longa de 96.
E se podemos pensar em Pânico como um filme que usa e abusa de brincadeiras, referências, homenagens, construções e, até mesmo, desconstruções do gênero, ele também pode ser observado de uma ótica madura de filmagem do diretor. Enquanto Wes ficou acostumado a tentar sempre observar a visualidade na filmografia, esse elemento vai ser uma porta de entrada para a ironia aqui. Iniciando na brincadeira com a ideia da final girl. A protagonista da sequência inicial é Drew Barrymore: totalmente “do bem” e sem nada fora do padrão dentro da própria casa. Mesmo assim, é morta de forma trágica. A partir disso, fica claro como as regras estarão lá apenas para ser explicadas (como forma de homenagem) e, logo em seguida, destruídas.

Esse ponto demonstra uma tentativa de Wes Craven em ser menos um diretor que vai tentar explorar o máximo desses espaços, personagens e visuais. O objetivo dele é encarar o terror de frente, seus problemas e preceitos. Dessa forma, por que não um vilão bobo? Todos precisam ser realmente tão sérios? Ghostface cai, toma soco, chute, desmaia, tropeça, erra (e como erra), mas não deixa de estar sempre na cola dos protagonistas. A ideia é nunca deixar que ele pareça algo sobrenatural – como na frieza eterna de Jason e Michael Myers -, mas sim humano. Esse elemento serve justamente para entendermos que os personagens lidam com uma ameaça que pode ser morta (os “tiros finais” em todos brincam com essa questão) e, ao mesmo tempo, geram uma expectativa na audiência de buscar descobrir quem é o assassino. E ele quebra a barreira também, ao nunca observarmos a narrativa do ponto de vista desse “mal”, já que ele é apenas ruindade e ponto.
Como eu disse antes, todos os Pânico estão longe de produções exatas. É justo dizer que são, verdadeiramente, uma tentativa teórica de elucidar questionamentos sobre o próprio gênero e a forma como ele está presente para a sociedade. O aparecimento da franquia “Stab” dentro dos filmes traz objetivamente essa discussão. Desse jeito, com todas as bases estabelecidas, Craven vai atrás sempre de duas coisas em todas as histórias: compreender a novidade do horror e a fraqueza disso.
No primeiro, isso aparece a partir da perspectiva midiática. O diretor usa e abusa da personagem Gale Weathers, já que ela se transforma em uma peça chave no tratamento de como a sociedade absorve o medo. Ele coloca nessa persona a possibilidade de gerar uma compreensão do público que o gênero não é apenas a própria lucratividade, ele também pode ser sobre vazio e até mesmo bisonho. Essa questão é tão forte que vai se transformando em uma característica frequente da personagem, a partir do momento em que ela absorve essa perspectiva nova de mundo e confrontam todos os iguais (a “jornalista” no segundo, a publicitária no quarto).

No segundo, temos a tese da espetacularização do público. A cena inicial da morte de Maureen (Jada Pinkett Smith) durante a sessão de “Stab” é o ponto direcional da discussão. Além disso, vemos menos uma teoria se destrinchando nessas figuras, o que se prolifera na morte do maior teórico de todos, Randy (Jamie Kennedy). Mais do que o desconhecido, aqui estamos lindando com um universo de possibilidades. De que a maneira o horror pode influenciar as pessoas? Pouco importa, já que ele é parte da construção dessa sociedade, no fim das contas. Todo o espetáculo da exibição, que culmina em uma morte teatral dentro de uma sala cheia de Ghostfaces, apontam para um olhar menos crítico ao cinema, e sim na constatação da forma que ele aparece no mundo.
No terceiro, é na desvalorização do gênero em si mesmo e para os outros. Ele não importa, é colocado de lado e só tem relevância a partir da morte do seu elenco. De todos, talvez seja o filme mais “indignado” do diretor. Ao mesmo tempo que é um grande crítico do modelo comercial dos remakes, Craven transforma todo o longa em uma grande lembrança do passado, como se Sidney tivesse que passar por tudo de novo. Só que ele faz isso dentro de uma lógica de observar o cinema do presente – no caso, em 2000 – com a falta de poder criar em cima do que se já tem. E para ser totalmente transparente nessa análise, o final é composto por uma luta entre irmãos a partir da vingança, ou seja, puro suco dos textos de Shakespeare. No fim das contas, o horror deveria lembrar que ele não é novo, mas também não vive do passado.
Por fim, no quarto, lidamos com a compreensão da tecnologia nesses longas. A câmera filmando a todo instante a vida de um estudante de cinema, ao mesmo tempo que o assassino como uma figura voyeur do mundo da popularidade digital. A narrativa adentra um lado sobre como as mudanças nas câmeras afetaram um novo olhar para o terror, que pode ser diferente e inesperado (pelo clímax e a descoberta dos vilões), ao mesmo tempo que é totalmente sobre um passado (como o uso de Gale das câmeras individuais, em vez de uma pessoa ao seu lado). Mas dentro desse jogo, Craven, no último lançamento de um longa metragem na vida, prefere o presente e o futuro. Ele se vê dentro dessas possibilidades. Apesar do passado vencer, como sempre (afinal apenas reciclamos histórias), o futuro chega perto. Talvez da próxima poderia sair vitorioso. E ele tenta levantar o futuro do gênero com isso tudo, abrindo espaço para outros cineastas.

Óbvio que a franquia Pânico pode ser olhada dentro de uma ótica metalinguística, e todos as obras fazem questão de salientar isso a todo instante. Todavia, os quatro longas são interessados em buscar dar passos sempre para frente dentro um gênero (e até subgênero, no caso do slasher) que se viu em eternas repetições. Mas Wes Craven está longe de ser alguém que busca explicar toda essa teoria para o público de forma impossível de ser entendida. Através da didática, ele alcança o primordial: o medo. E agora não só da audiência perante a algo que está na frente do ecrã, mas também dele próprio, em permitir que seu amor pelo terror seja visto por outros.
No fim das contas, a frase de Ghostface é menos aterrorizante, e sim um apelo de Wes para que o terror nunca morra.