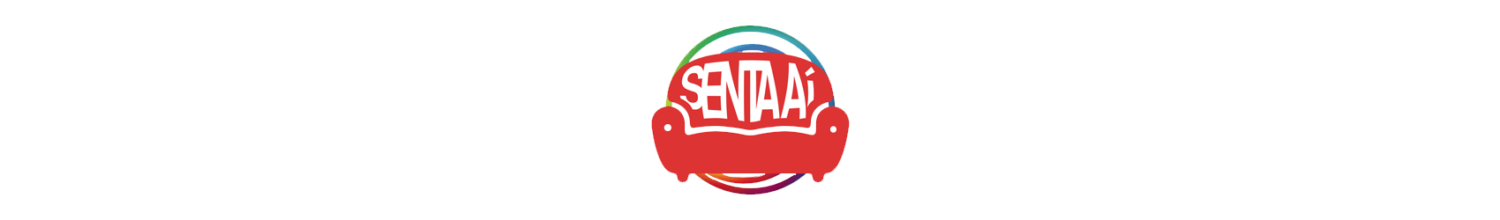Crítica – Elvis
A carreira de Baz Luhrmann já apresentou ótimos altos, mas gigantescos baixos. Seu estilo, muito espalhafatoso e com uma estética bem própria, marcou alguns filmes, como Moulin Rouge e O Grande Gatsby. Contudo, toda encenação por parte do diretor sempre pareceram meio “erradas” em seus trabalhos, como se nunca fizessem realmente sentido. Desse jeito, mesmo com um profundo “grito” (por assim dizer) visual, ele nunca conseguiu concatenar diretamente com os temas e o drama por si só. Mas isso até agora. Em Elvis, Luhrmann parece ter encontrado – finalmente – um personagem para poder expelir um pouco de tudo que sempre gostou de trabalhar. E o mais importante é que essa explosão tem tudo a ver com o que Elvis Presley sempre foi.
Isso aparece já desde a primeira cena. Lúdica, ela retrata bem como a dialética será retratada narrativamente perante o protagonista (Austin Butler, em uma atuação catártica e inteiramente relacionada com a proposta) e seu empresário, Coronel Tom Parker (Tom Hanks). A direção deixa bem clara como veremos uma grande disputa e jogo de poder dos dois ao longo dos acontecimentos – e como eles sempre vão pender contra o artista. A estrutura sempre decorrer por alguma tese (ideia de show, lançamento de algo que, normalmente, parte por Elvis), antítese (Parker criticando algo ou tentando podar o cantor) e a síntese (o que decorreu disso, só que quase sempre pendendo para as ideias do astro).

Esse enfrentamento é relevante para construir duas personalidades dramáticas de intenso confronto. No fim das contas, Luhrmann destaca como todas as discussões se refletiam em grandes encenações e momentos para Elvis. É quase como se o astro dependesse do caos, desse ambiente complexo. Um dos maiores momentos nesse sentido é a apresentação em um show beneficente. Todas as falas e empurrões contra ele, o fazem transformar aquilo em algo marcante. Ao mesmo tempo que o cineasta constrói esses instantes como quase uma explosão – e que, por isso, são sempre exagerados e únicos -, ele também faz eles serem fundamentais para como a narrativa irá avançar.
Outra sequência relevante nesta perspectiva é aquela em que o empresário vê o cantor dançando pela primeira vez. Não importa nenhuma veracidade, ou uma realidade inerente. O que interessa para a câmera ali é demonstrar essa figura absurda, totalmente fora do seu tempo e capaz de causar qualquer coisa (inclusive, orgasmos por parte das jovens mulheres). Enquanto está ali, pura, ela é livre de amarras. Depois da interação com o homem que administra a carreira, se torna sempre podado, porém sem esquecer a liberdade pelo qual ele é por natureza.
Luhrmann traduz Elvis em menos uma grande cinebiografia e mais uma coleção de momentos. A vida curta do artista também colabora, só que o joguete entre as quedas e subidas acabam sempre o grande ponto chave para compreender essa persona. Até porque, no fim das contas, as biografias sempre buscar entender quem está sendo observado, exposto, ali. Para o diretor, então, é menos importante ser teórico para falar dessa história, precisando buscar mais os pormenores que fazem esse personagem ser tão presente no mundo ainda atualmente. Assim, até bem curioso como Baz se controla em trazer todo o mostrado para o momento atual. É como se estivesse guardando tudo isso e esse passado em também um tempo anterior. Mas que para entender o presente, é preciso visitá-lo.

A maior virtude do filme também traz seu maior problema. Ao saber construir tão bem esses momentos grandiosos, ele acaba perdendo toda a força durante os momentos finais. A obra acaba dando mais espaço para um trajeto mais comum, quase contraditório com o que acaba apresentando anteriormente. Os momentos da fase final da carreira e vida de Presley são rápidos e dão pouco espaço para uma compreensão maior do trabalho artistíco dele nesse mesmo período – até mesmo com um dos momentos finais, da apresentação no hotel.
Do mesmo jeito, ao conseguir ser tão profundo na conexão entre Elvis e Tom Parker, os outros personagens sempre soam estranhos nessa narrativa. O desenvolvimento ruim, por exemplo, de Priscilla (Olivia DeJonge), uma figura que aparenta ser fundamental pelo que o longa mostra, mas nunca demonstra ser em momento algum. Ao acabar dando força para isso no período derradeiro, a produção parece até meio estranha a si mesmo com tudo que colocou em tela antes.
Nada que atrapalhe muito os instantes de maior brilho de Elvis, que sabem fazer jus a figura trabalhada. O artista aparece como alguém descascado, mas, principalmente, discutido. Baz Luhrmann não deixa de fazer o filme ser uma grande homenagem, lembrança, só que o coloca de forma a ser uma intensa discussão sobre passado e futuro dessa figura. Por isso mesmo, os momentos de exaltação, música e brilho, ainda são difíceis de saírem de cabeça. Até porque eles parecem ser de um Elvis Presley muito presente nos nossos tempos, mesmo sem estar.