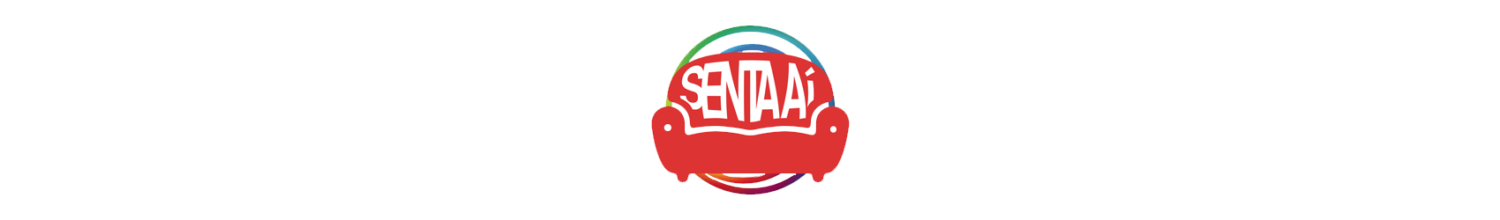Crítica: Maria e João – Um conto de bruxas
Releituras de contos de fadas já não são mais nenhuma novidade. Seja trazendo questões políticas, cômicas ou tons mais sombrios aos contos infantis, as novas versões dessas conhecidíssimas histórias já estão quase originando um gênero próprio. Osgood Perkins se aventura aqui a trazer a irmã de João e Maria para o centro de uma história de terror gótica, íntima e quase psicodélica em Maria e João: Um conto de bruxas.
Perkins já nasceu com o nome cravado no terror: o cineasta (que também é ator) é filho de Anthony Perkins, famoso por interpretar Norman Bates no clássico Psicose. Apesar de ter iniciado sua carreira há pouco tempo, com apenas três longas e o primeiro sendo lançado em 2015, o diretor já conseguiu criar e fixar uma identidade artística e narrativa em seus filmes. No mais recente, ele tenta atrelar essa pegada artística e reflexiva a uma proposta mais comercial (tanto que é o primeiro receber um lançamento grande nos cinemas). A questão é: isso torna o filme mais palatável a uma audiência mais ampla ou sacrifica seu potencial como uma história autêntica?

O filme segue Maria e João, dois irmãos órfãos que são obrigados a sair de casa após serem expulsos pela mãe, que já não tem como alimentá-los. A peste assombra as terras em que eles vivem e parece muito improvável que Maria consiga um emprego onde seu corpo não faça parte do contrato. É quando eles encontram, no meio da floresta, uma casa lustrosa e atraente, onde mora uma senhora com uma mesa sempre farta e disposta a compartilhar o que tem. Embora esteja oferecendo abrigo e comida em troca de trabalho em casa e na floresta, Maria logo começa a suspeitar que a senhora esconde mais do que comidas atraentes em sua casa.
Entre os muitos aspectos que se destacam no longa, para o bem e para o mal, o principal atrativo é o visual. O clima desejado já é instalado desde os primeiros minutos, uma aura lenta e carregada fortemente baseada no que está sendo apresentado em tela. A fotografia, os cenários e os figurinos se complementam para trazer uma identidade quase psicodélica e futurista (baseada nas cores e figurinos) mas ainda assim com raízes no campo, no outono e no místico. No entanto, esse clima soturno não é o suficiente para criar uma atmosfera eficiente. O ritmo é lento demais quando poderia ser mais ágil, e ele se apressa quando deveria construir cenas e diálogos com mais calma.
Conforme a trama se desenvolve, finalmente é possível compreender como a história de Maria se diferenciará do conto original. Estamos diante, afinal, de uma história de amadurecimento e crescimento pessoal, sobre conhecer quem você é, saber seu lugar no mundo e onde ele se encaixa, e entender que nunca há o bom ou o mal de maneira maniqueísta dentro de nós. Tudo isso acaba sendo abordado, mas ao invés de construir esses questionamentos de maneira mais sólida durante o filme, somos apresentados com sonhos enigmáticos (apesar de, esteticamente, criativos e marcantes) que só se provam úteis para a narrativa quase no final.

Dessa maneira, o último se apressa não só porque precisa concluir a história, mas também porque precisa explicá-la. Até o clássico discurso onde o vilão explica seu plano, seu passado e seus motivos está lá. Isso talvez seja um elemento exigido pelo estúdio, assim como a narração. De qualquer maneira, o espectador acaba ficando com duas sensações: ou algo está faltando ou algumas coisas foram demais. O maior traidor do filme pode ser seu maior mérito: o estilo foi mais importante do que a substância? Mas isso nunca é uma certeza, mesmo após a conclusão. É um longa com seus méritos e acertos, que talvez possa decepcionar muita gente, mas certamente deixa sua mensagem bem clara no fim da sessão.