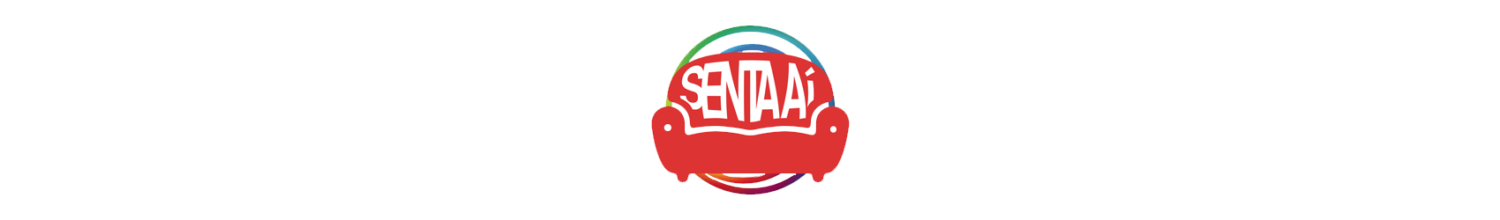Crítica – Midsommar: O Mal Não Espera a Noite
Logo após sua estreia no cinema com Hereditário, o cineasta Ari Aster gerou imensas expectativas sobre seu trabalho futuro. Se nesse primeiro ele despontava de um horror psicológico para contar uma trajetória sobre luto, a base inicial de seu longa seguinte toca nos mesmos temas. Visto que, aqui, em Midsommar: O Mal Não Espera a Noite, acompanhamos a história de Dani (Florence Pugh) na qual acaba perdendo seus pais e sua irmã em uma trágica situação. Após sofrer demais disso, seu namorado, Christian (Jack Reynor), a leva em uma viagem para Suécia com alguns amigos para fugir e esquecer um pouco desse passado.
Com esse enredo inicial, seria possível pensar nessa obra como algo até mais relacionável a um drama direto. Contudo, o papel diferencial de Midsommar está em toda a trajetória dentro de território sueco, quando estamos dentro da vila de Hårga, no norte do país. Lá, é aonde somos apresentados pela trama a um ritual celebrado naquela comunidade a bastante tempo. O lugar é aonde nasceu Pelle (Vilhelm Blomgren), amigo de Christian e estudante de antropologia em uma universidade dos Estados Unidos. A partir de sua visão, olhamos o vilarejo sob uma perpsectiva bonita, inicialmente – salientada pelos contra-luz e a mistura de cores na fotografia de Pawl Pogorzelsk. Contudo, os pequnos fatos são os mais intrigantes para a narrativa.

Aster coloca um olhar bem chamativo ao gerar o ponto de vista antropológico da situação. Josh (William Jackson Harper) é a maior potência nisso pelo fato de estar fazendo sua tese na faculdade sobre o lugar. Dani é o seu total contraponto, pelo simples motivo de estar totalmente alheia a outras comunidades e uma visão de fora. Ela sente um impacto por uma certa bizarrice onipresente. As casas, as perguntas, os olhares. Tudo vem bastante da sua visão de fora, na qual poderia até significar um preconceito, mas ali é visto como uma atenção aos detalhes.
Nesse sentido, o diretor utiliza bastante e parece ficar deslumbrado demais com toda a parte ritualística da situação. O ideal dramático sobre perda – bem reforçado a prióri – vai perdendo um pouco de força, especialmente no grande final. Esse quesito ritualístico aparece quase como um deslumbre, pela mistura de elementos mais estéticos da cena (cores, construções) e outros mais da encenação proposta (a dança, as falas estranhas, os planos-sequência e longos). Ari quer bastante que o público esteja familiarizado com esses elementos logo quando são apresentados, para utilizá-los de um jeito mais potente e direto nos grandes momentos. Todo esse preceito rememora bastante o filme O Homem de Palha, de 1973, dirigido por Robin Hardy. A sinergia existente entre os dois – e o final deixa isso mais claro – está em explorar os potenciais da construção do medo nesse meio.
Em sua visão da edificação dramática existe já um olhar bem próximo a Ingmar Bergman, realizador, também sueco, do século XX. Essa questão pode ser até feita em conjunto com A Hora do Lobo, de 68, em que coloca a ilha para um ponto de um lado meio psicológico. Ali, Bergman brinca com os closes e os planos abertos, com o objetivo de sempre criar uma situação de estranheza em todos os cantos. Ari Aster coloca isso aqui, brincando com esse ambiente, aparentemente chamativo pelo seu lado da beleza, mas com esse lado ‘malígno’ por detrás. Assim como os personagens, recebendo aquelas informações a sua volta até olhando comicamente, com destaque para Mark (Will Poulter), mas ficando confusos ao redor das circunstâncias.

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite é um filme bem vibrante dentro da sua experiência cinematográfica. A direção se utiliza de preceitos narrativos até padronizados do horror (os estranhamentos, por exemplo) para elucidar mais sua situação. A imagem aqui serve bastante para brincar com as noções de realidade, algo menos bruto do que em Hereditário. Quando todos estão drogados, vemos as imagens destorcidas, para gerar a mesma sensação de uma quase ansiedade.
Em um longa pautado por tantas questões imersivas da sua história, talvez faltasse consolidar mais isso em seu drama, esquecido nos mais diversos períodos. A obra busca mais olhar isso como um lado periférico, mesmo que construído, ao início, como prioritário. Esse lado pode fazer falta a alguns, porém também serve como catapulta a uma tensão crescente com cada nova sequência e a um final apoteótico e gigantesco. De um lado ou de outro, Midsommar não teme em gerar o máximo de sensações e conexões com a audiência. Não teme em ser forte ou ficar segurando o que deveria fazer. Midsommar usa a experiência cinematográfica como sua aliada narrativa sem medo algum. Se isso é bom ou ruim? Aí vai depender demais dos olhos de quem assiste.