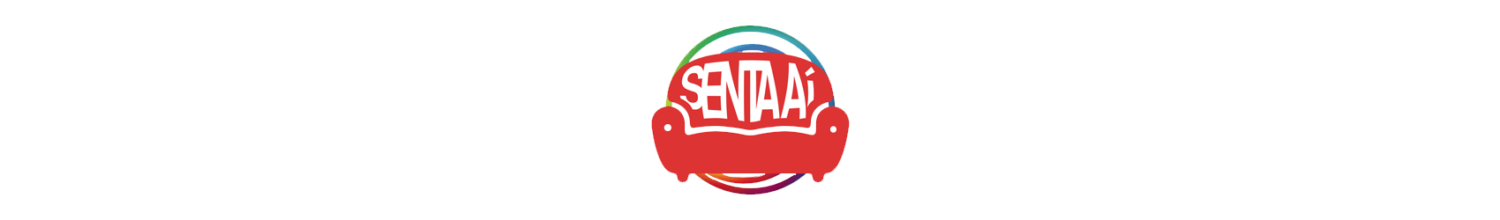A Hora do Lobo é um genuíno terror sobre os nossos medos mais profundos
Qualquer pessoa que se deparar com alguma obra do cineasta sueco Ingmar Bergman pode ficar incomodado à primeira instância. Isso porque seu olhar para a humanidade é um pouco mais sombrio do que geralmente é mostrado pela sétima arte. Tentando entender sempre a essência humana e nosso existencialismo de mundo – para isso criando filmes extremamente dramáticos -, Bergman segue padrões quase do niilismo de Friedrich Nietzsche. Todavia, ao transportar esses conceitos para as telonas, o diretor usa sua câmera como uma lente observatória de quem realmente somos.
Em A Hora do Lobo, Ingmar já tinha consolidado uma carreira complexa e bastante aclamada, tendo sido indicado ao Oscar por Morangos Silvestres e Através de um Espelho, além de já ter realizado O Sétimo Selo e Persona, duas de suas obras primas. Porém, essa nova produção, que completa 50 anos esse ano, vinha como uma cara nova ao escandinavo, por causa do exploração do terror, algo pouco trabalhado de frente por ele em seus longas. Ao fazer isso, Bergman brinca com os nossos sentidos como telespectadores, além de trazer o existencialismo base de sua vida.

Ao iniciar a película com um escrito na tela e vozes de fundo para o início das gravações (ainda nos créditos iniciais), já existe uma tentativa de quebrar esse sentido de realidade do público. Se fosse para falar sobre quem realmente somos, por que não explorar nossos medos? Nossa própria configuração do que seria real? Para isso, é estabelecida uma narrativa nos primeiros momentos totalmente focada em explicitar uma “verdade” a quem assiste. Corroborando os dois momentos citados anteriormente, a primeira cena demonstra a personagem Alma Borg (Liv Ullmann) quebrando a parede existente entre o filme e a audiência para relatar os problemas e o desaparecimento de seu marido, Johan Borg (Max von Sydow).
Com isso colocado em tela, tudo dali para frente é uma desconstrução desses minutos iniciais. Os conflitos do casal sempre se estabelecem como uma relação fria, afastada, algo proposto pelos espaços negativos (entre um personagem e outro) da fotografia de Sven Nykvist. Aliás, esses conflitos estabelecem a criação da necessidade por buscar algo de fora, principalmente devido ao isolamento na qual estão dentro da ilha, o cenário da trama. Quem mais tenta utilizar isso como escape – quando conhece outras pessoas esquisitas residentes do local – é Johan, tentando achar inspiração para seu trabalho como pintor. Bergman, inclusive, faz aqui quase uma auto análise, tentando elucidar e entender como funcionaria todo esse processo criativo de um artista e até que ponto o medo não tira algo dele.
Quando o terror começa a se tornar mais explícito, ainda que as alusões fiquem um pouco mais claras, continuam abertas. A discussão sobre os medos do casal se tornam necessários devido à opressão sofrida pelas outras pessoas. É quase como se existisse um julgamento social constante nos relacionamentos, algo que gera a suposta traição do marido (no momento que ele tira a roupa da mulher) e o afastamento da esposa (ao não participar das criações de seu cônjuge). Essa pressão social se torna tão intensa ao ponto de sempre existir uma necessidade de fuga dos ambientes, como se nenhum lugar fosse realmente o ideal para se estar. A metáfora ao constante medo da exclusão social e da morte se tornam perfeitas, como se a depressão atingisse aquele relacionamento de forma tão catártica que eles precisam retornar ao seu estado de profundo pânico.

Uma das genialidades do sueco aqui é retomar diversas ideias clássicas desse gênero dentro do cinema, da literatura ou das artes plásticas para construir um mundo bizarro, mas reconhecível, como se habitasse na mente de todos. Para isso, ele constrói o conceito do castelo do mal, quase como algo do Drácula ou Nosferatu, o julgamento social – como dito acima -, o lado sobrenatural, presente em grande parte das obras do gênero. Esses pontos geram uma convergência quase definitiva para tudo isso sendo construído na cabeça do protagonista, fazer parte de um medo constante. Muito mais que falar “todos vamos morrer um dia”, Ingmar fala “temos esses medos todos os dias”. Nossos pavores são constantes, uma ameaça sempre aberta, para isso a representação desse lado psíquico humano é tão importante nos seus longas. É uma busca eterna a entender por que isso aconteceria conosco, o que gera ainda mais medo. Não é por acaso a influência estabelecida a partir dali para cineastas como David Lynch, Dario Argento, Wes Craven e, mais recentemente, Robert Eggers. É um legado do terror inciado nos anos 20, com o Expressionismo Alemão, e nunca mais esquecido.
A Hora do Lobo pode não ser a obra máxima de Ingmar Bergman, mas é, indubitavelmente, um dos mais marcantes. Apesar de falar sobre um assunto único, não é um filme limitado na sua essência a entender esse assunto por uma única ótica. O importante aqui é compreender como estamos sempre ameaçados por nossas cabeças. Pelos nossos medos mais profundos e mais abrangentes.