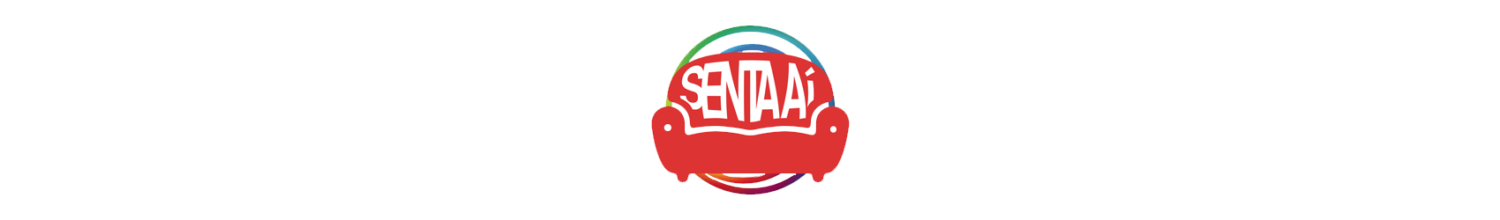Crítica – Power
Em certo momento de Power, novo longa original da Netflix, o personagem interpretado por Jamie Foxx, Art, fala para Robin (Dominique Fishback): “você é mulher e negra, o sistema foi feito para te engolir”, e sugere que ela pegue o que há de melhor para jogar contra esse sistema, que no caso dela, é o Rap. Na cena seguinte, Art testa as habilidades de rima da jovem, usando palavras complicadas, e com ela construindo versos sem muita dificuldades. Nesta pequena sequência, o longa aborda a ideia de poder como algo que se apresenta de diversas maneiras, de forma que pode ser usado para subjugar os outros ou de até ferramenta de libertação, justamente para contestar outros poderes estabelecidos.
Durante a narrativa, essa ideia de “quem tem o poder, o que faz com ele e porquê?” aparece aqui e ali. Nesse sentido, ambientar a história em Nova Orleans, que sofreu muito e ainda não se recuperou totalmente do impacto do furacão Katrina e também pelo modo que o governo Federal atuou no pós desastre, pode ser bastante interessante. Esses casos são até citados pelo personagem de Joseph Gordon Levitt, o policial Frank. É uma cidade justamente onde os poderes estabelecidos, aqueles que deveriam ajudar as pessoas, fracassaram de modo profundo.

No mundo do filme, o poder está ao alcance de todos, por um certo preço, através de uma misteriosa pílula distribuída pelo traficante Biggie (Rodrigo Santoro). Ao ingerir a substância, o usuário fica super poderoso por 5 minutos, mas as habilidades variam de pessoa para pessoa. Alguém pode se tornar super forte, outra invisível e uma terceira simplesmente explodir. Robin é uma vendedora dessa pílula, amiga de Frank, único policial que usa a droga para “equilibrar as coisas” e tentar pôr um fim nisso. Essa questão acontece até que Art chega na vida dos dois, um homem que possui história íntima com a substância.
Os elementos para uma discussão sobre as consequência do poder estão lá, mas os diretores Henry Joost e Ariel Schulman preferem, no lugar disso, construir um genérico mundo urbano banhado em neon. Nesse universo, são colocadas questões como marginalização de pessoas periféricas de forma a se apresentar “relevante” de algum modo, mas não tarda a deixar isso de lado em favor de pancadaria contra capangas sem rosto e cientistas malvados. O maior exemplo disso é que Robin, lentamente, passa a ser mais uma sidekick do que ter sua própria agência na trama, auxiliando para suavizar a imagem de Art em alguns momentos, enquanto serve para garantir que Frank é um “bom policial” no meio de um sistema corrupto. Ela uma personagem com sonhos e vontades próprias para uma mera assistente ou que precise ser resgatada.
Se há algo levemente atraente em Power é o modo bem gráfico que os poderes são apresentados visualmente, mesmo que acabe sendo repetitivo em determinado ponto – sempre que alguém toma a pílula, é feito um plano detalhe dos olhos. Entretanto, é curioso como os cenários vão ficando progressivamente mais genéricos. Uma das primeiras cenas de ação se dá num prédio decrépito e que se utiliza da precariedade do local para toda a sequência, com os personagens utilizando buracos no chão e paredes frágeis para manter o dinamismo da cena. No entanto, as próximas acontecem em um galpão de supermercado, um bar e num navio. Até existe uma tentativa de variar um pouco as coisas com a criação de plano sequência, só que acaba por ser obscurecida pelo efeito visual de um dos poderes em exibição. O resultado é, como você pode esperar, só confuso mesmo.
Falar de Netflix e algoritmo não é novidade, todavia é difícil não comentar isso quando o “cálculo” por trás do filme é tão evidente: comentário social + super heróis + ação = pessoas assistindo, já que é tudo muito lugar comum e confortável. É uma obra engendrada para prender a atenção de modo bem superficial. Isso se reflete na narrativa, que se contenta em falar sobre questionar poder, mas que nunca faz isso de fato.